Hoje os dias gastam-se, fastidiosos e rotineiros, a falar do défice que não pára de crescer, do volume de endividamento que está a tornar o país irrespirável, para não dizer ingovernável, da previsível vinda ou da desnecessidade do regresso do Fundo Monetário Internacional de má memória para obrigar a colocar as nossas contas públicas em ordem, já que não nos revelamos capazes de o fazer pelos nossos próprios recursos.
Pelo meio, há quem acene, com algum oportunismo e absoluto irrealismo, com uma nova revisão constitucional, que peca basicamente pela extemporaneidade, ou seja, introduzir esse mecanismo no quotidiano político será como considerar importante um grupo folclórico a acompanhar um funeral.
Em causa está uma realidade que se costuma apelidar de “Estado Social”, que é equacionado nos debates, na imprensa, nas conversas, na rua, nos comícios, nos fóruns partidários. Ser a favor ou contra - eis a questão...
Mas o que é isso de “Estado Social”, que também leva o nome de “Estado Providência”, ou de “Welfare State” e que, curiosamente, para o economista e ex-governante Bagão Félix, “é o alicerce nº 1 da cultura europeia”?
É o contrário do que muitos teóricos chamam o “Estado Liberal”, uma realidade que vem do século XIX e que se caracteriza por um modelo em que a intervenção do Estado se reduz ao mínimo. Nesta acepção, o Estado não existe, apenas detém uma função reguladora, que, na prática, nada regula, como se sabe. Vigorou, historicamente, até à grande depressão económica dos anos 30 e sobretudo à Segunda Guerra Mundial. Quando as coisas deixaram de funcionar, o modelo faliu e deu lugar ao que se chama Estado de “Welfare”, ou de “bem-estar social”, que pressupôs, desde logo, o aumento substancial das funções do Estado, sobretudo na área das politicas sociais, como sejam a saúde, a educação e a segurança social. É óbvio que ao acréscimo das funções e do peso do Estado correspondeu o aumento da despesa pública e do número de funcionários. Nos nossos dias, segundo especialistas, cerca de 70% do pessoal da Administração Pública trabalha no âmbito das políticas sociais (professores, médicos, enfermeiros, assistentes e educadores sociais, etc.).
Daí que ressurjam vozes a clamar alternativas ao Estado do “Welfare”, assentando na ideia de um estado mais magro, para muitos, o Estado “mínimo”, em que as áreas sociais deveriam ser entregues à iniciativa privada. A revisão constitucional proposta pelo PSD vai nesse sentido de entregar aos privados a exploração de sectores sociais como a saúde e a educação, sobretudo se forem rentáveis, pois, como se adivinha e comprova, aos privados apenas interessam os negócios lucrativos. O resto que fique no “Estado Social”.
Na alma desta acepção do alegado “Estado mínimo” está a ideia de que o que tudo o que é público é ineficiente e que, portanto, há que fazer passar a maior parte das politicas sociais para a esfera particular, como se isso fosse panaceia universal. E não é, claramente.
Imaginemos, por um momento, um país em que o Estado se demitia das suas funções sociais nas áreas da saúde, da educação e da segurança social!...
Um país em que os pobres não têm direito de acesso aos cuidados de saúde, em que um doente terminal não tem lugar nos hospitais, um idoso não é operado a um cancro, porque sem esperança de vida, em que qualquer cidadão só pode ir a um médico se tiver dinheiro e a uma unidade de saúde se possuir um seguro.
Imaginemos um país em que para se frequentar o ensino obrigatório é necessário pagar propinas, sem apoios sociais, e no qual o ensino universitário é pago pelo bolso de cada estudante.
Imaginemos um país em que um desempregado não tem direito ao subsídio de desemprego; em que as famílias pobres não têm direito a qualquer apoio social de inserção ou em que os reformados, depois de uma vida de descontos, usufruem de míseras pensões, se não tiverem feito um seguro de vida.
O “Estado mínimo” é esta caricatura, mais coisa menos coisa, se levada às últimas consequências. É assim que se emagrece o Estado, se recuperam as finanças públicas. De preferência, exterminam-se os portugueses mais pobres, os desempregados, os que recebem prestações sociais e depois a classe média, sobrando apenas os Belmiros, os Mellos e os Berardos para darem sentido e consistência a um Estado forte, rico, produtivo, eficiente, desburocratizado, sem ameaças do FMI ou da porcaria das agências de “rating”. Pretensamente, este tipo de Estado supõe a emergência de uma sociedade forte e independente do Estado. Obviamente!...
Uma utopia, que não passa disso mesmo. Uma ilusão sem tempo nem lugar.
NB. Ficará para outras núpcias a bondade da iniciativa privada, sem tradição nem cultura neste país. Por hoje, gostaria de finalizar com uma nota: a nomeação de Paulo Bento como seleccionador nacional, para além de caricata, é como que acenar com uma bóia a um náufrago sem salvação. Ninguém acredita em Paulo Bento, que nunca ganhou coisa nenhuma, nem nesta selecção, ao ponto a que chegou. Não haveria pior opção? Os jogos que aí vêm vão ser seguramente um penoso exercício de autoflagelação nacional. Serão o paradigma do “Estado mínimo” do desporto português!...
Pelo meio, há quem acene, com algum oportunismo e absoluto irrealismo, com uma nova revisão constitucional, que peca basicamente pela extemporaneidade, ou seja, introduzir esse mecanismo no quotidiano político será como considerar importante um grupo folclórico a acompanhar um funeral.
Em causa está uma realidade que se costuma apelidar de “Estado Social”, que é equacionado nos debates, na imprensa, nas conversas, na rua, nos comícios, nos fóruns partidários. Ser a favor ou contra - eis a questão...
Mas o que é isso de “Estado Social”, que também leva o nome de “Estado Providência”, ou de “Welfare State” e que, curiosamente, para o economista e ex-governante Bagão Félix, “é o alicerce nº 1 da cultura europeia”?
É o contrário do que muitos teóricos chamam o “Estado Liberal”, uma realidade que vem do século XIX e que se caracteriza por um modelo em que a intervenção do Estado se reduz ao mínimo. Nesta acepção, o Estado não existe, apenas detém uma função reguladora, que, na prática, nada regula, como se sabe. Vigorou, historicamente, até à grande depressão económica dos anos 30 e sobretudo à Segunda Guerra Mundial. Quando as coisas deixaram de funcionar, o modelo faliu e deu lugar ao que se chama Estado de “Welfare”, ou de “bem-estar social”, que pressupôs, desde logo, o aumento substancial das funções do Estado, sobretudo na área das politicas sociais, como sejam a saúde, a educação e a segurança social. É óbvio que ao acréscimo das funções e do peso do Estado correspondeu o aumento da despesa pública e do número de funcionários. Nos nossos dias, segundo especialistas, cerca de 70% do pessoal da Administração Pública trabalha no âmbito das políticas sociais (professores, médicos, enfermeiros, assistentes e educadores sociais, etc.).
Daí que ressurjam vozes a clamar alternativas ao Estado do “Welfare”, assentando na ideia de um estado mais magro, para muitos, o Estado “mínimo”, em que as áreas sociais deveriam ser entregues à iniciativa privada. A revisão constitucional proposta pelo PSD vai nesse sentido de entregar aos privados a exploração de sectores sociais como a saúde e a educação, sobretudo se forem rentáveis, pois, como se adivinha e comprova, aos privados apenas interessam os negócios lucrativos. O resto que fique no “Estado Social”.
Na alma desta acepção do alegado “Estado mínimo” está a ideia de que o que tudo o que é público é ineficiente e que, portanto, há que fazer passar a maior parte das politicas sociais para a esfera particular, como se isso fosse panaceia universal. E não é, claramente.
Imaginemos, por um momento, um país em que o Estado se demitia das suas funções sociais nas áreas da saúde, da educação e da segurança social!...
Um país em que os pobres não têm direito de acesso aos cuidados de saúde, em que um doente terminal não tem lugar nos hospitais, um idoso não é operado a um cancro, porque sem esperança de vida, em que qualquer cidadão só pode ir a um médico se tiver dinheiro e a uma unidade de saúde se possuir um seguro.
Imaginemos um país em que para se frequentar o ensino obrigatório é necessário pagar propinas, sem apoios sociais, e no qual o ensino universitário é pago pelo bolso de cada estudante.
Imaginemos um país em que um desempregado não tem direito ao subsídio de desemprego; em que as famílias pobres não têm direito a qualquer apoio social de inserção ou em que os reformados, depois de uma vida de descontos, usufruem de míseras pensões, se não tiverem feito um seguro de vida.
O “Estado mínimo” é esta caricatura, mais coisa menos coisa, se levada às últimas consequências. É assim que se emagrece o Estado, se recuperam as finanças públicas. De preferência, exterminam-se os portugueses mais pobres, os desempregados, os que recebem prestações sociais e depois a classe média, sobrando apenas os Belmiros, os Mellos e os Berardos para darem sentido e consistência a um Estado forte, rico, produtivo, eficiente, desburocratizado, sem ameaças do FMI ou da porcaria das agências de “rating”. Pretensamente, este tipo de Estado supõe a emergência de uma sociedade forte e independente do Estado. Obviamente!...
Uma utopia, que não passa disso mesmo. Uma ilusão sem tempo nem lugar.
NB. Ficará para outras núpcias a bondade da iniciativa privada, sem tradição nem cultura neste país. Por hoje, gostaria de finalizar com uma nota: a nomeação de Paulo Bento como seleccionador nacional, para além de caricata, é como que acenar com uma bóia a um náufrago sem salvação. Ninguém acredita em Paulo Bento, que nunca ganhou coisa nenhuma, nem nesta selecção, ao ponto a que chegou. Não haveria pior opção? Os jogos que aí vêm vão ser seguramente um penoso exercício de autoflagelação nacional. Serão o paradigma do “Estado mínimo” do desporto português!...













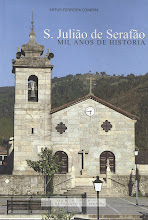





Sem comentários:
Enviar um comentário