1. O Natal da minha infância era feliz,
livre e puro. As preocupações não existiam na minha praia, longe disso. Era
apenas criança e isso me bastava. Levantava-me, ia à escola ou à catequese,
brincava longamente pela tarde fora, na altura em que as crianças ainda
brincavam, inventando jogos, espaços e instrumentos para a sua distracção,
fossem motas de madeira, carrinhos de rolamentos, corridas entre o milho,
assalto às árvores à cata dos ninhos, os jogos das “betas” e dos botões que nos
levavam clandestinamente a fiscalizar camisas, casacos e blusas da família com
que pudéssemos reforçar o pecúlio do jogo. Quando a coisa corria mal, é que
eram elas!... A pedagogia da lambada fazia maravilhas!...
Todo
o ano desesperava pelo mês de Dezembro. A minha infância era órfã de pai vivo, emigrado
em França desde o final dos anos 50, como acontecia a milhares de crianças como
eu, num país oprimido, miserável, sem liberdade nem pão e que obrigava quem não
queria estiolar à fome salazarista a ter de enfrentar o destino em direcção aos
“bairros de lata” dos arredores de Paris. Naturalmente, em busca de uma vida
melhor para si e para os seus.
Como
eu esperava, ano após ano, a chegada de Dezembro!.. Dezembro que era o tempo em
que meu pai regressava do país da abundância e das oportunidades, carregado de
chocolates e caramelos, com um cheiro civilizado e intenso a perfume e aos cigarros
“Gauloises”, que me encantava. Aí por
meados do mês, eu tinha outra vez pai, que me levava à pesca, me convidava a
acompanhá-lo à feira de Fafe, me levava ao futebol e fazia todo o esforço por
não ter de exercer a “autoridade paternal”, que era normal na época, no mês em
que aqui estava de férias, quando o meu lado rebelde se portava mal. Essa coisa
da “educação” e da “criação”, com tudo o que supunha, estava a cargo da mãe,
que cá ficava a mourejar ao longo do ano e que desempenhava simultaneamente o
papel do progenitor ausente. Era uma autêntica heroína do nosso quotidiano,
reconheci-o bem mais tarde, com toda a justiça.
Então,
o Natal era o “must”. Como eu apreciava o afã feminino dos preparativos para a
ceia, envolvendo as mulheres da casa, sobretudo a minha mãe, em quem recaía a
tarefa de ir à horta cortar as tronchudas, mas também fazer os mexidos, a
aletria e as rabanadas, cozer as batatas e o bacalhau, que sabiam como em
nenhum outro dia do ano, acompanhados por alhos e cominhos. Ainda hoje me
acontece o mesmo: o simples cozido de batatas e bacalhau, acompanhado pela
verdura, tem na noite de 24 de Dezembro um sabor singular, absolutamente
delicioso e irrepetível. Que saudades do calor da lareira, criado
artisticamente pelo meu pai, com toros de madeira especialmente concebidos para
aquela noite, que mais que o corpo, aqueciam a inocência da minha pequena alma.
E
pela cozinha ficávamos horas e horas, afogueados pelas labaredas, a ouvir
histórias de França e daqui, que a televisão ainda não era o utensílio
democrático que seria anos depois.
Já
não me recordo se havia também a missa do galo na igreja da paróquia mas,
cansado dos dias de brincadeira e de frenesim, adormecia no sono dos justos até
à manhã seguinte. Porque, por aquele tempo, não havia Pai Natal (essa desgraça
de velho gordo fora do tempo inventada pela Coca-cola…) a distribuir presentes
na noite de consoada. As crianças colocavam um sapatinho ou uma chanca debaixo
da chaminé para que o Menino Jesus aí depositasse uma lembrança. Que era um
mísero chocolate, uma dúzia de rebuçados, uma boneca ou uma moeda de vinte e
cinco tostões. E eu ficava imensamente feliz com o presente que me calhava, num
tempo em que de pouco termos estávamos mais próximos da plenitude. Tudo o que
viesse era uma bênção e as crianças apreciavam tudo o que recebiam.
Ainda
hoje o Menino Jesus é o meu herói de Natal, se é que tenho algum herói, do que
duvido cada vez mais: rechonchudo, belo, nu, sorridente, simboliza a esperança
e tudo o que começa.
Refiro-me
ao Menino Jesus do poema do Alberto Caeiro, uma criança bonita de riso e
natural, que ensina a olhar para as coisas, que aponta toda a beleza que há nas
flores, a Eterna Criança, o deus que faltava, o humano que é natural, o divino
que sorri e brinca, e que dorme dentro da minha alma, e às vezes acorda de
noite a divertir-se com os meus sonhos.
Qual
Pai Natal, qual quê?
2. O meu Natal de hoje é bem mais
triste. Já não tenho infância, que habita apenas a memória. Fui perdendo a
inocência, no embate com a fuliginosa e perversa realidade, ano após ano; fui deixando
pelo caminho quem muito amava. A casa já não é a mesma, a lareira já não acende,
com o fogo de outrora; há mais duas cadeiras desertas na mesa da consoada, dois
pratos ausentes a encher o coração de mágoa, de lágrimas e de saudade
inapelável. De um vazio insuprível, que só avalia quem passou pelo mesmo transe!
Natal
em que, anualmente, maquinalmente, invocamos a solidariedade como exercício ético
e do âmbito categórico do dever ser.
E
ainda bem que a “solidariedade não está em crise”, como referia este jornal na
edição de sábado, nas palavras do administrador dos Serviços de Acção Social da
Universidade do Minho, Carlos Silva. O voluntarismo e a solidariedade são ainda
âncoras neste bárbaro país da injustiça e do empobrecimento propositado!...
Sobretudo numa altura em que a pobreza alastra, a fome espreita, o desemprego
se multiplica assustadoramente.
O
Natal acaba por mascarar demasiada hipocrisia mas apela ao que de mais humano,
profético e poético há no homem. O sentido da fraternidade, do altruísmo, do
humanitarismo, da dádiva gratuita e quase divina.
“Paz na Terra aos homens de boa vontade...” –
apetece repetir, com Gedeão, apesar de toda a miséria, dos conflitos e da crise
que nem o espírito de Natal consegue obnubilar.
Festas felizes para todos os leitores.E que o ano de
2013 seja pelo menos bem melhor do que as dramáticas perspectivas que dele se
anunciam. Havemos de sobreviver ao holocausto da crise!...
Boas
Festas!














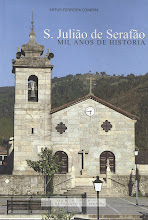





Sem comentários:
Enviar um comentário