Não sei se os leitores já repararam: uma das maiores ditaduras da actualidade é nem mais nem menos do que o telemóvel. Não é Sócrates, apesar das tentações; não será Passos Coelho, ainda imberbe nesses domínios. Muito menos, Pinto da Costa ou Alberto João Jardim , apesar da falsa toleima de que têm alguma piada. Nem sequer o FMI.
É esse pequeno aparelho, cada vez mais leve e minúsculo, cada vez mais sofisticado, que se enfia no bolso do casaco ou das calças, para já não falar da carteira das senhoras, esse universo multímodo e caótico que só elas conseguem descodificar. Um aparelho às vezes inconveniente, que toca nos lugares mais indiscretos, como uma igreja, um cemitério ou uma reunião sigilosa. Para já não falar num encontro impróprio, no tempo, no lugar ou na pessoa.
O telemóvel acaba por ser a nossa segunda pele, de que não podemos abdicar, sob pena de perdermos a nossa identidade. É mais fundamental que o computador, que tanto divinizamos: porque podemos sair de casa sem o computador, sem qualquer problema. Vamos ao futebol sem o computador. Vamos ao centro comercial sem o computador. Podemos adiar a leitura do correio electrónico; deixamos para mais tarde a actualização do blogue, ou a visita ao facebook.
Contudo, não somos capazes de dar um passo na vida sem a segurança do telemóvel: sair de casa sem o telemóvel no bolso é como colocarmos o pé fora da porta, para trabalhar, em chinelos ou em pijama. Estamos nus, descompostos. Falta alguma coisa. Melhor, o essencial. Esquecemos às vezes a carteira, ou os óculos, mas nunca o telemóvel.
Se saímos de casa sem o ditador, voltamos atrás, porque não podemos estar um dia sem o telemóvel. No emprego, é claro, há telefone fixo. Podemos contactar e ser contactados. Mas não é a mesma coisa. Qualquer pessoa que tenha o nosso número, pode querer ligar a qualquer momento e nós não “estamos” lá. Não podemos atender. E se repente nos dá a vontade de dizer “bom dia” à nossa mãe, mandar um piropo à namorada, enviar uma mensagem de aniversário ao amigo que já não vemos há vinte e dois anos? Como é que vai ser?
Não nos venham com a lengalenga estafada de que até à existência do telemóvel, há bem poucos anos, as pessoas também viviam, também se falavam, deixavam recados, marcavam encontros, viajavam, iam e vinham, e tudo seguia normalmente. Ninguém morria se não soubesse durante duas ou três horas do nosso paradeiro.
Hoje, não. Na era do telemóvel, da urgência, da velocidade, da momentaneidade, se durante vinte minutos não conseguirmos contactar o nosso filho que foi dar uma volta de bicicleta, ligamos de imediato para a polícia, para o Hospital, para o INEM, colocamos um anúncio na internet, “desapareceu…”.
O telemóvel é, na verdade, o tirano dos tempos modernos. Reparemos, durante um simples jantar: estamos a comer, a beber, como que distraidamente. Mas não é distracção: de dois em dois minutos, fixamos o aparelho, não para ver as horas, mas na secreta esperança de que alguém ligue ou envie um simples SMS. Alguém, ou ninguém: é já hábito, costume, expectativa, paranóia. E se alguém calha de ligar, levantamo-nos, desviamo-nos, orelha colada ao aparelho, sorriso nos lábios, como se a banal chamada fosse a coisa mais importante do mundo.
E quando estamos a cavaquear num grupo de amigos ou de conhecidos? Se o telemóvel toca, interrompem-se as conversas, finam-se os diálogos: mais que quem está presente, ao nosso lado, quente de proximidade, releva quem está do outro lado do aparelho, frio, palavroso. A prioridade não é quem está junto de nós, é quem nos telefona. Mesmo que não tenha nada de importante para nos dizer, que seja para informar que o espectáculo não é às 9 mas às 10 da noite, ou que não vai jantar a casa. Pelo simples facto de estar a falar à distância, sobreleva sobre tudo o resto: todas as conversas, os encontros, por mais substanciais e primordiais que sejam.
Hoje o telemóvel é mais importante que tudo na vida. Ele é a vida, e tudo se lhe subjuga. Desligamos o computador, o televisor, o automóvel, a leitura, a música, o quotidiano. Não desligamos nunca o telemóvel, nem de noite, nem ao fim de semana, nem nas férias. É que “alguém” pode ligar. Ou ninguém, como acontece a maioria das vezes!...
Mudam-se os tempos, evoluem as vontades, subvertem-se os valores.
Estamos todos loucos. E a culpa não é das novas tecnologias. É da nossa cabeça alienada!
(Texto publicado na edição desta sexta-feira do semanário local Povo de Fafe e parcialmente lido na crónica quinzenal das sextas-feiras que o autor mantém na Rádio Fundação)













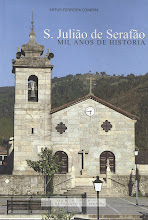





Sem comentários:
Enviar um comentário